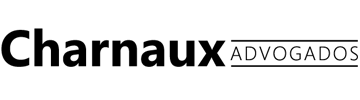Freepik
Em abril de 2022, o TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná) foi instado a decidir sobre a conduta de um médico que deixou de atender (por três vezes) um paciente em uma unidade de pronto-atendimento. Na ocasião, após julgamento do colegiado, foi decidido que o réu, denunciado por homicídio culposo por omissão, deveria ser responsabilizado criminalmente [1].
Além disso, como costuma acontecer nestes julgamentos, o tribunal, ao mesmo tempo que presenciou o avanço do Direito Penal sobre a área da saúde, acabou por integrar, o que tem se mostrado de praxe, elementos que talvez hoje já não possam mais ser considerados distantes ou alheios a este ramo do Direito.
Neste caso, a possibilidade de agir, um dos pressupostos de um crime omissivo impróprio, fez parte novamente do debate processual, já que a defesa argumentou que o acusado não prestou assistência porque estava cuidando de outros pacientes em estado grave e porque seria o único médico plantonista do local. Também, a inexigibilidade de conduta diversa, porque sustentou a defesa que os familiares da vítima estariam agressivos, haveria risco à integridade física do acusado e, por isso, este não poderia ter agido de modo diferente. Esta tese, aliás, se fosse acolhida, teria o condão de afastar a sua culpabilidade [2].
Assim, convém logo esclarecer que esses argumentos defensivos não foram contrariados, isto é, o TJ-PR reconheceu que o médico estava realmente atendendo diversos pacientes (ou, ao menos, estaria à disposição de diversos pacientes), que era o único plantonista e, ainda, que os familiares da vítima estavam exaltados, o que justificou, inclusive, intervenção policial. Portanto, se a veracidade desses fatos não deu conta de alterar a decisão final, parece ter existido outros tantos que justificaram o édito condenatório. E, cabe já adiantar, são exatamente os que, cada vez mais, têm estreitado a fronteira entre o Direito e a saúde.
A intenção deste texto não é tratar verticalmente dos elementos do crime omissivo, mas, aí sim, jogar luz no que existe nessa região fronteiriça. Afinal, ainda que as teses da defesa não tenham sido acolhidas, esse caso revolveu, sem dúvidas, um problema antigo que vem comprometendo e dificultando a boa prática dos profissionais da saúde, trazendo até hoje, como se nota, repercussões criminais, que é a sobrecarga de trabalho (demandas concomitantes) dos médicos, especialmente dos plantonistas solitários.
Na esfera criminal, a relação médico-paciente, bem se sabe, exige dos médicos não qualquer ação, mas uma ação que precisa, via de regra, evitar que algum resultado danoso ocorra em desfavor daquele que está sob seus cuidados. Em caso de omissão, o profissional poderá responder pela prática de um crime, que será definido pelo resultado provocado. E foi exatamente o que aconteceu. O médico em questão deixou de atender o seu paciente (e, ainda, de forma reiterada), que veio à óbito. O tribunal, então, condenou o médico pelo crime de homicídio culposo por omissão por entender que “esteve comprovado que o acusado deixou de prestar atendimento”.
Poderíamos até vislumbrar uma resposta criminal distinta se — e apenas se — pudermos considerar que o excesso de pacientes tem o condão de inviabilizar, fática e concretamente, o atendimento de um destes tantos pacientes. Ocorre que, para que uma omissão seja relevada ou, melhor, seja penalmente irrelevante, exige-se que essa impossibilidade seja física [3], o que não parece ser o caso. Dificuldade não se confunde com impossibilidade, eis que ostentam sentidos notadamente distintos. De todo modo, parece nascer aqui uma discussão bastante salutar.
De todo modo, o próprio TJ-PR sustentou expressamente que:
“A despeito do acusado ser o único médico plantonista no dia dos fatos, ocasião em que atendia outros pacientes em estado grave, está comprovado que este deixou de atender a vítima, mesmo tendo sido informado da piora do seu quadro clínico. A alegação de que estava sobrecarregado atendendo outros pacientes, por si só, não exime o ora apelante de responsabilidade. Enquanto médico plantonista, embora fosse o único no pronto-socorro, tinha obrigação de, ainda que minimamente, prestar algum atendimento, e não deixar a vítima à própria sorte” (destaque do articulista).
O tribunal, como se observa, não tardou em sinalizar que a pluralidade de pacientes não afasta o dever de agir, mesmo quando a unidade de pronto-atendimento estiver congestionada. Aliás, diante deste cenário, que longe está de se apresentar raro, o colegiado ponderou ainda de forma derradeira que seria dever do médico a prestação de pelo menos algum atendimento ao paciente.
Por isso, neste enredo, fático e jurídico, a decisão condenatória se mostrou bastante previsível. Isso porque, como ficou demonstrado ao longo do processo, o médico manteve-se absolutamente inerte, não obstante os vários chamados de sua equipe, o que fez com que a indiferença do profissional e o seu desinteresse pelo paciente ganhassem, inclusive, destaque textual no acórdão em análise.
Mesmo assim, à vista do que foi debatido, abriu-se margem para avançarmos um pouco mais na discussão sobre os contornos da responsabilidade penal do médico, especialmente porque, a despeito do necessário dever de agir para evitar um resultado danoso, inobservado neste caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, acompanhando parecer do Conselho Regional de Medicina e manifestação do procurador de Justiça, sinalizou que caberia ao médico a gestão do caos do pronto-atendimento, ônus esse considerado desrespeitado e, daí, justificador da responsabilidade (da condenação).
Aqui o problema que se apresentou é de natureza dogmática. Afinal, exige-se do médico, claro, uma postura diligente, suficientemente capaz de impedir um resultado lesivo ao seu paciente. Essa obrigação, porém, em nada coincide — em nada pode coincidir — com eventual dever de gestão da (des)ordem de um estabelecimento hospitalar. E não será nem o caso de debater se deve(ria) este profissional ser responsável ou não por gerir esse — reconhecido — caos simplesmente porque os pressupostos do crime muito se distanciam dessa “obrigação”. Aliás, uma das premissas inafastáveis da responsabilidade penal é o respeito aos princípios da legalidade e da tipicidade [4].
Desta maneira, esse “dever”, quando incorporado no acórdão como argumento, ao que parece, acabou por desviar o foco de uma discussão que precisa(va) envolver essencialmente fundamentos do Direito Penal, isto é, que precisava enfrentar tão somente o que o médico deveria (e poderia) fazer (nos termos da Lei e da doutrina penal) e o que fez ou o que deixou de fazer.
Terreno perigoso
Constaram no acórdão, é verdade, algumas condutas que deveriam ter sido observadas pelo médico, mesmo – ou, melhor, principalmente – em situações caóticas [5]. Entretanto, ao assinalar textualmente que o réu deveria também “ter demonstrado um interesse mínimo em atender o paciente”, “prestado algum atendimento” e, ainda, “não deixado o seu paciente a própria sorte”, o tribunal adentrou em um terreno um tanto perigoso, principalmente porque essas incumbências não podem ser aferidas objetivamente e, cabe sim afirmar, se aproximam muito mais de compromissos morais.
Vê-se que mesmo a “prestação de algum atendimento”, apesar de se aproximar de um dever legal, se mostrou uma obrigação demasiadamente vaga, especialmente quando se sabe, como registrado, que o dever de agir do médico é orientado por uma finalidade singular. É possível defender, então, que não basta(rá) ou pode(rá) não ser suficiente a exigência de um atendimento qualquer ou, nos termos do acórdão, exigir simplesmente a “prestação de algum atendimento”. Aliás, neste exato sentido, poderia muito bem este profissional (réu no caso em análise) ser responsabilizado ainda que tivesse realizado uma das condutas apontadas no acórdão se essa ação não obstasse o resultado lesivo ao paciente [6].
Então, essas exigências (que são mais expectativas, daí os problemas que delas decorrem), dotadas de uma objetividade bastante frágil, não trazem segurança alguma aos médicos e aos demais profissionais da saúde, mesmo que, (apenas) em um primeiro momento, em razão justamente da abrangência conceitual destas obrigações, possam transmitir a estes uma (falsa) sensação de tranquilidade. Em suma, a decisão final — que envolve um conhecimento técnico — sobre o acerto ou desacerto da conduta do profissional não pode se revelar um ato solo de um operador do Direito, representante do Judiciário ou não.
Bem, a saturação dos hospitais e das unidades de saúde não é novidade alguma para o brasileiro, assim como também não são a existência dos plantões e o fato de um único médico ser responsável por demandas simultâneas. Mas o que também não pode ser novidade para o brasileiro e, sobremaneira, para os profissionais da saúde é que esse panorama não afasta o dever de cuidado que estes têm em relação a todas estas pessoas que estão — e que estarão — sob seus cuidados.
O que se percebe, pois, é que essas condições coexistem e caracterizam com frequência o chão de fábrica do(a) médico(a), do(a) enfermeiro(a) e de muitos outros que prestam atendimento de saúde. Assim, hoje, por exemplo, o médico plantonista solitário que acabe precisando se defender em uma ação penal terá seu destino definido por um representante do Poder Judiciário que, atualmente, não tem nenhuma baliza objetiva para seguir.
E certo é que a sobrecarga de trabalho não será considerada para aliviá-lo da culpa (aqui em sentido lato), até porque, e essa questão merece enfrentamento em separado, este profissional tem o direito de recusar-se a exercer sua profissão onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente [7] e, ainda, lhe é vedado deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação fazê-lo [8].
É preciso compreender que se esses ambientes potencializam a chance de erro, a imprecisão dos contornos da responsabilidade penal do médico maximiza ainda mais a probabilidade de um profissional da saúde ser responsabilizado criminalmente — ou, ao menos, denunciado e/ou investigado. Daqui, as consequências são sentidas por todos os envolvidos: pelo próprio médico, pela unidade em que trabalha e, naturalmente, pelo paciente.
Portanto, não se defende a elaboração de manuais que possam prever todas as circunstâncias que podem ser enfrentadas por médicos e por todos aqueles que atuam ao seu lado em situações como a desenhada no acórdão. Contudo, defende-se, sim, a criação de protocolos que possam integrar em seu corpo o máximo de situações, tendo como referência, sempre, não apenas disposições legais, resoluções e normativas técnicas, mas, principalmente, o que ocorre nesse já caracterizado chão de fábrica. Afinal, esses profissionais precisam saber exatamente o que e como fazer, sobretudo nesses momentos de demandas simultâneas, de maior instabilidade e riscos (para todos os envolvidos).
Fonte: Revista CONJUR – autores – Thuan Gritz e Tiago Sofiati